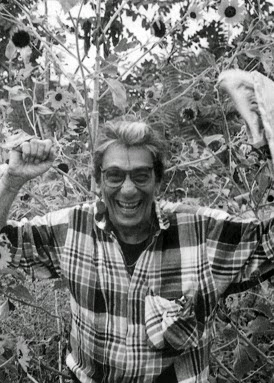Duas cartas de René Magritte a Michel Foucault
23 de maio de 1966
Prezado Senhor,
O senhor fará o obséquio, espero, de considerar estas poucas
reflexões relativas à leitura que faço de seu livro As palavras e as coisas...
As palavras Semelhança
e Similitude permitem ao senhor sugerir com força a presença –
absolutamente estranha – do mundo e de nós próprios. Entretanto, creio que
essas duas palavras não são muito diferenciadas, os dicionários não são muito
edificantes no que as distingue.
Parece-me que, por exemplo, as ervilhas possuem relação de
similitude entre si, ao mesmo tempo visível (sua cor, forma, dimensão) e
invisível (sua natureza, sabor, peso). É a mesma coisa que concerne ao falso e
ao autêntico etc. As “coisas” não possuem entre si semelhanças, elas têm ou não
têm similitudes.
Só ao pensamento é dado ser semelhante. Ele se assemelha
sendo o que vê, ouve ou conhece, ele torna-se o que o mundo lhe oferece.
Ele é tão invisível quanto o prazer e a pena. Mas a pintura
faz intervir uma dificuldade: há o pensamento que vê o que pode ser descrito
visivelmente. As Damas de Honra[1]
são a imagem visível do pensamento invisível de Velásquez. O invisível seria
então, por vezes, visível? Só com a condição de que o pensamento seja
constituído exclusivamente de figuras visíveis.
A esse respeito, é evidente que uma imagem pintada – que é
intangível por sua natureza – não esconda nada, enquanto o visível tangível
esconde sistematicamente um outro visível – se cremos em nossa experiência.
Existe, há algum tempo, uma curiosa primazia conferida ao
“invisível” através de uma literatura confusa, cujo interesse desaparece se se
observa que o visível pode ser escondido, mas que o invisível não esconde nada:
pode ser conhecido ou ignorado, sem mais. Não cabe conferir ao invisível mais
importância do que ao visível, ou inversamente.
O que não “falta” importância é ao mistério evocado de fato pelo visível e pelo invisível, e
que pode ser evocado de direito pelo
pensamento que une as “coisas” na ordem que o mistério evoca.
Permito-me apresentar a sua atenção as reproduções de quadros
anexas, que pintei sem me preocupar com uma busca original no pintar[2].
Queira aceitar etc...
René Magritte
______________________
Notas
[1] Também conhecido por Las
meninas. (N. do T.)
[2] Entre essas reproduções havia “Isto não é um cachimbo”:
no verso, Magritte escrevera: “o título não contradiz o desenho, ele o afirma
de outro modo”.
 |
| Isto não é um cachimbo, 1929. Óleo sobre tela 23 x 31 cm |
4 de junho de 1966
Prezado Senhor,
... Sua questão (a respeito do meu quadro Perspectiva. O Balcão de Manet) pergunta
sobre o que ela própria já contém: o que me fez ver ataúdes onde Manet via
figuras brancas é a imagem mostrada por meu quadro onde o cenário do Balcão convinha para situar os ataúdes.
O “mecanismo” que operou aqui pode ser objeto de uma
explicação erudita, da qual sou incapaz. Essa explicação seria válida, talvez
certa, mas continuaria sendo um mistério.
O primeiro quadro, intitulado Perspectiva, era um ataúde sentado sobre uma pedra, numa paisagem.
O Balcão é uma
variante do precedente, houve outras anteriormente: Perspectiva. Madame Recamier de David e Perspectiva. Madame Recamier de Gérard. Uma variante com, por
exemplo, o cenário e os personagens do Enterro
em Ornans, de Coubert, teria o sentido de uma paródia.
Creio que se deve notar que esses quadros, chamados Perspectivas mostram um sentido que os
dois sentidos da palavra Perspectiva não têm. Essa palavra, e as outras, tem um
sentido preciso num contexto, mas o contexto – o senhor o demonstra melhor do
que ninguém em As palavras e as coisas
– pode dizer que nada é confuso salvo o espírito que imagina um mundo
imaginário.
Agrada-me o fato de que o senhor reconheça uma semelhança
entre Roussel e o que eu possa pensar que mereça ser pensado. O que ele imagina
não evoca nada de imaginário, evoca a realidade do mundo que a experiência e a
razão consideram confusamente.
Espero ter a oportunidade de encontrá-lo por ocasião da
exposição que farei em Paris, na galeria Iolas, pelo fim do ano.
Aceite etc...
RENÉ MAGRITTE
Tradução: Jorge Coli
 |
| Madame Recamier de David, 1950. Óleo sobre tela 60 x 80 |
 |
| Balcão de Manet, 1950. Óleo sobre tela 81 x 60 cm |